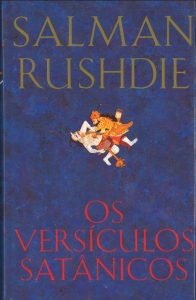
Sir Ahmed Salman Rushdie (n. 1947) foi hoje atacado em Nova Iorque, uns 34/33 anos depois do lançamento da trilogia que lhe mereceu, a 14 de Fevereiro de 1989, a fatwa a ordenar-lhe a sua execução, proferida pelo (já defunto) Aiatolá Ruhollah Khomeini.
Fica aqui a crítica (que continuo a subscrever) publicada em “O Independente” na data de lançamento da tradução portuguesa: “Os Versículos Satânicos” – Um romance maldito a exigir uma dupla crítica, oriental e ocidental.
Comparado a Galileu, Giordano Bruno, ou Dreyfus, o caso Rushdie tem já feito correr rios de tinta por vários continentes, em artigos, reportagens, e agora livros – só entre Julho e Setembro (1989) foram publicados, em Londres, The Rushdie File de Lisa Appignanesi e Sara Maitland (Fourth Estate/ICA), Counterblasts No. 4: Sacred Cows por Fay Weldon (Chatto) e Salman Rushdie and the Third World: Myths of The Nation por Timothy Brennan (Macmillan).
Todos eles – defendam ou ataquem o autor – têm em comum a tónica na perspectiva política, na liberdade religiosa e de expressão, na hipocrisia da reacção ocidental à condenação à morte decretada pelo falecido Khomeini. Independentemente do grau de qualidade atribuído ao romance, todas as abordagens críticas relegam para segundo plano a perspectiva literária.
Porque Salman – ou Satã – Rushdie pertence(u) à fé/nação islâmica, e as histórias dos seus romances têm uma conotação geográfica específica, torna-se difícil separar os diversos campos, entender as posições, claramente antagónicas, que os seus escritos têm suscitado.
Os Versículos Satânicos é o último romance de uma trilogia composta por Os Filhos da Meia Noite (1981) e A Vergonha (1983). Segundo o autor, o elo de ligação entre eles é o tema da «anglicização» e da migração do povo indiano.
Rushdie diz que escreveu os dois primeiros «como se nunca tivesse partido» da sua terra natal, Bombaim, enquanto no terceiro pretendeu encenar o tema sob uma dupla perspectiva «a partida colectiva dos muçulmanos de Bombaim para Carachi», e a sua «de Bombaim para Londres. Era a primeira vez que escrevia a partir do ocidente.» O autor admite que fala sobre o Islão, mas especialmente sobre «migrações, metamorfoses, “eu”s divididos, amor, morte, Londres e Bombaim».
A trilogia debruça-se, pois, sobre um conflito cultural, expresso pela alegoria, a fantasia épica, o milagre, a paródia e «pastiche», por detrás dos quais ressalta, quase profética, a parábola política: os seus verdadeiros heróis são, cronologicamente, Indira Gandhi, Benazir Butho e Khomeini.
Tal como Hari Kumar de A Jóia da Coroa, Rushdie personifica e pretende dizer dois modos de olhar o mundo, determinado por geografias, histórias e religiões bem diversas. Os seus escritos exigem, então, uma dupla leitura, e uma dupla crítica, oriental e ocidental em simultâneo.
A partir de um conceito de arte islâmico, a «poética» face à qual os romances deverão ser medidos é, de facto, O Corão – a palavra de Alá inspirada divinamente a Maomé pelo anjo Gabriel. O livro é um tratado religioso e moral, mas também político e igualmente artístico. O seu dogma: «Não há deus senão Alá e Maomé é o seu profeta» transforma Maomé numa figura sagrada. Ele é o «rasul» ou mensageiro de deus, e o único milagre que o sistema corânico lhe atribui é a «i’jaz», a elegância da sua escrita.
O Corão representa, pois, O Modelo artístico que jamais poderá ser ultrapassado, impondo-se como norma aos discursos posteriores (é ele que Averróis utiliza como termo de comparação no seu comentário à Poética de Aristóteles, sobrepondo-o a toda a poesia até ao seu tempo); por sua vez, Maomé é O Autor por excelência que não apenas registou as regras a serem seguidas pelas obras de arte, como as pôs em prática de um modo único. Entre aquelas regras encontra-se a (nem sempre respeitada) proibição de representar seres animados que, é já um lugar comum, estará na base do desenvolvimento da arquitectura como principal forma artística, e fundamenta o recurso a elementos abstractos e florais para exprimir o espiritual. Tem, como exemplo mais próximo, os azulejos decorativos: a repetição até ao infinito de um mesmo padrão que aspira a transmitir o belo e o divino – o indizível.
Em Os Versículos Satânicos, Rushdie, o apóstata, transgride o «hodud»: representa deus como um velho doente, com caspa e óculos (p.295). Utiliza como personagens principais, não apenas uma caricatura do anjo Gabriel, como também do próprio Maomé (e de Khomeini). Brinca com a (má) escrita do texto sagrado, desmistificando a palavra divina e o milagre que preside à sua qualidade literária. Ainda, refere a tentação de idolatria e politeísmo que acometeu o profeta – o pecado de «shirk» -, tanto mais grave quanto as divindades propostas como concorrentes de Alá são femininas (p. 142).
Todas estas blasfémias (ou erros artísticos), individualmente puníveis com a morte, desencadeiam a ira e a «fatwa» de Khomeini, que não é apenas um pretexto político. Na sua qualidade de Imã, aquele foi duplamente ofendido: o Imã (desaparecido no ano de 878) é o salvador do mundo que se espera reapareça no final dos tempos (tal como o Messias judaico), é uma reencarnação do profeta.
A violência fanática dos adeptos de Khomeini não pode ser comparada – como o tem sido – com a agressividade desencadeada pelo filme de Scorcese (A Última Tentação de Cristo), nem tão pouco com as sensibilidades do Kremlin às revelações sobre a vida privada dos seus pares, porque o ocidente está «des-sacralizado».
Para os xiitas, a essência do seu mundo, onde política, arte e religião são indissociáveis, foi ameaçada. E, nestas circunstâncias, a «inocência» de Rushdie deixa muitas dúvidas: «O rapaz encolhe os ombros. “Trabalho de poeta”, responde. “Nomear o inominável, apontar a dedo as imposturas, tomar partido, inaugurar disputas, moldar o mundo e impedi-lo de adormecer.” E se rios de sangue jorrarem dos golpes que os seus versos infligem, então esse sangue alimentá-lo-á. É o poeta satírico, Baal.» (p.99).
Ironicamente, embora alguns romancistas tenham sido perseguidos – e muitos morrido - porque o conteúdo das suas obras ofende o poder, nenhum o foi ainda por não cumprir com as regras básicas de uma poética.
Olhando para Os Versículos de uma perspectiva «ocidental», toda a problemática islâmica se apresenta como obsoleta e sem sentido. A ideia de modelo, a exigência de uma poética, de uma norma-padrão para o fabrico de uma obra de arte, foram-se perdendo desde o Renascimento.
O direito a «falar, escrever, imprimir livremente» foi registado em 1789, e estamos já habituados à autonomia artística decretada por Kant, aos conceitos de criatividade e originalidade valorizados pelo individualismo romântico. Uma obra mede-se face a outras, pelas suas qualidades estéticas, e não pelos conceitos políticos, filosóficos, ou éticos que nela se possam encontrar. A escrita não é sagrada, os próprios textos religiosos podem ser apelidados de ficção, e a dúvida científica tem levado a leituras alegóricas dos ilogismos da fé.
O último romance de Rushdie terá, então, de ser avaliado face aos anteriores, e o saldo revela-se como não positivo.
Os Versículos representa um exacerbar, nem sempre bem conseguido, das estratégias narrativas já utilizadas – histórias de encaixe, «mise-en-abyme», o recurso ao fantástico, ao sonho, à citação, os jogos de palavras, o uso de «crioulos» (indiano/inglês). Os heróis, anjo e demónio, são apresentados como duplos gemelares – duas facetas de uma mesma personalidade: Gibreelsaladin Farishtachamcha – que «reencarnam» separadamente após uma queda do Céu, numa inversão do processo criador. Desdobram-se em personagens fracamente caracterizadas o que, a par da multiplicação de narradores e pontos de vista, leva a perder os fios da(s)intriga(s).
No entanto, este é um daqueles casos curiosos em que o original sai claramente beneficiado pela tradução: estão de parabéns os tradutores, pois a versão portuguesa atenua a inferior qualidade literária que, frente aos seus antecessores, se exibe em Os Versículos Satânicos. E nem o auto-de-fé a que o romance foi sujeito, nem as mortes que provocou, podem alterar esse facto.
Impõe-se, no entanto, a defesa do autor, como diz Christopher Hitchens: «Temos de estar do lado de Salman Rushdie, não porque ele seja um cão-batido, mas porque não há mais nenhum lado para estar.» (London Review of Books, vol. II, nº. 20, 26.10.89).
Helena Barbas [O Independente, 1989 – Os Versículos Satânicos – Salman Rushdie – Trad. Ana Luisa Faria e de Miguel Serras Pereira – Dom Quixote/Circulo de Leitores, 1989]


